Por uma fração de semifusa, tinha decidido começar esse texto assim: “Não estou aqui para julgar ninguém”. Graças a uma redentora recuperação dos sentidos, três motivos se mostraram logo impeditivos para essa monstruosidade.
Em primeiro lugar, porque essa maneira de enganar o leitor – que, é verdade, merece sempre ser enganado, de preferência por vias ultrajantes – é simplesmente má literatura. A premissa da autenticidade, da boa-vontade com o texto, do comedimento defendido a unhaços e pernadas é coisa de santarrão, ou seja, dos que esperam do real a comunicação de um sentido mínimo, mais brilhante ainda se carregar o selo do comezinho. Essa doença do estilo é típica das espinhelas caídas que são as escritas dos Heideggers, das Lispectors e dos Caiofernandoabreus, antitetizadas pelo assombro, no limite paradoxal da indiferença, que se observa nos versos incomparáveis de Susana Thénon ou Manoel de Barros. Esse último, sim, era, de fato, alguém assentado no solavanco tranquilo da não-espera – se eu pudesse definir a poética de Barros seria por esse oxímoro, não pela expectativa de uma beleza oculta nos pequenos gestos, como a desenvolvida, às vezes de forma muito bonita, mas, de todo modo, vulgar, pela Clarice Lispector de Uma aprendizagem, que faz sua personagem Lóri sofrer intensamente de vida e amor em meio a sacolas de maçãs e telefonemas para o encanador. (Quando eu era adolescente, eu amava esse livro com um amor tão devoto quanto o tédio que sinto com ele agora. Um sinal da cafonice lispectoriana talvez resida no fato de que nunca houve uma única edição de seus livros que não fosse visualmente piegas. Esperamos que os designers espertinhos da Vila Madelena se sintam desafiados intelectualmente com isso. Se bem que talvez tenham sido eles os responsáveis por aquela abominação que são as capas da coleção Marx da Boitempo. Será?). Talvez porque eu tenha envelhecido, meu herói ético é mesmo o Manoel de Barros, iluminando o mundo em uma entrevista no final dos anos 1990: “Todos os dias acordo às cinco da manhã, tomo guaraná – meu pai me viciou – vou para o escritório e lá fico descascando palavras. Quando desço, ao meio-dia, tomo um uísque e ligo a TV para ver o Chaves.” Uma aprendizagem.
Em segundo lugar, qualquer um que tenha convivido mais de trinta segundos comigo sabe que cada milímetro do meu passadiço ser está destinado a julgar as pessoas, as coisas, e, principalmente, os livros. É muito cansativo, confesso. Quantas vezes, entalado na multidão de um metrô sufocante, não me entreguei aos devaneios da maldade, incomodado com uma frase de efeito de um suposto poeta? Como fazer com que o Pondé seja jogado no mar dentro de um saco com cal? O que dizer, então, das pessoas que migraram para esta plataforma, o Substack, apenas para reclamar que os textos são longos demais, ou densos demais, ou repetitivos demais? Existiria punição severa o bastante para os adoradores de Fernando Sabino? Como vêem, gasto um tempo considerável planejando mentalmente a destituição do império da barbárie bem-pensante e dos assim chamados leitores-contra-tudo-e-contra-todos. A acusação de narcisismo, uma obviedade inócua frequentemente dirigida a mim, até faria sentido, se não fosse o fato de que, para mim, julgar também significa autodestruir-se. Falar mal de um autor não é exatamente morrer um pouco, mas insistir numa arbitrariedade fundamental que, por fim, respinga sobre aquele que, por falta de uma palavra melhor, critica. Dito de outro modo: uma boa crítica destrutiva – não me venham com o pietismo rastaquera das críticas construtivas, fiéis ao original, ponderadas – tem a obrigação de revelar que o crítico não existe. É claro que nem toda maldade secretada contra a arte é digna de interesse. Não vou nem mencionar mais longamente a parvoíce da direita contra as vanguardas; podemos nos limitar a um campo menos bovino: por exemplo, a crítica da taturana-tornada-escritor, nosso Monteiro Lobato, a Anita Malfatti, em seu artigo histriônico “Paranoia e mistificação”, de 1917. Misto de misoginia, nostalgia caipira e homossexualidade reprimida, o texto é simplesmente idiota em seu ataque e obtuso em seu estilo. Deveria ter havido uma lei que obrigasse o Lobato a escrever apenas sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E olhe lá. Uma outra aprendizagem.
Enfim, não julgar costuma ser a linha de abertura do hino dos passadores de pano. Vejam o caso recente do Vargas Llosa. Quanta gente, do Macron a Boric, correu para vestir a roupinha de carpideira e, de braços abertos, cantar que, apesar de tudo, foi um grande mestre? Não sei o que dá nessa gente. Trata-se de um escritor medíocre, obviamente, macerado no que há de pior no tal realismo mágico, mesmo quando o recusa ou dele tenta fugir: um certo gosto pela surpresa fácil, pela excentricidade ensaiada, por uma boutade de missa dominical. Não falo isso apenas por ele fazer parte do fã-clube da Margaret Thatcher, por ter apoiado o Bolsonaro ou por ter dentes inferiores muito separados – todos sinais claros de canalhice. Mas acontece, embora muito raramente, de um bom escritor ser um asno político. Pensem no Tirésias de Buenos Aires, o Borges: apoiou o Pinochet, declarou-se inimigo figadal dos marxistas, bajulava o liberalismo desavergonhadamente. E, ainda assim, há uma coisa ou outra notável em sua escrita – muito roubado do Macedônio Fernández, é verdade, mas nem tudo. Isso nos obriga a queimar Borges? Talvez, um pouco. Teremos de queimar todos os racistas da história da literatura? Certamente sim, mesmo que não sobre ninguém. Mas isso significa não lê-los? Não, meus queridos, isso significa começar a lê-los. Insistir no horror do conservadorismo da literatura, voltar aos absurdos de sua misoginia, de sua homofobia, de seu classismo, de seu racismo é uma condição fundamental não apenas para que esses textos ganhem uma dimensão que interessa a nós, pessoas de esquerda (digo isso com um frio na espinha de pensar quem coloco ao meu lado nessa expressão), mas para que entendamos que não é possível ler sem fazer uma partilha. Isso é julgar. Só mesmo quem não entendeu que a literatura é um mecanismo de controle, mesmo quando ela se elabora como um diálogo abstrato sobre o amor, é que se rende à tolice da separação entre autor e obra. Só quem se enfada com a demora dessa literatura acredita que essa coincidência entre ambos já está dada, ou que é universal. Devemos, antes, construí-la sob a condição de não acreditarmos no real. O realismo mágico se deu essa tarefa, mas o destino político de muitos de seus autores confessa o limitado alcance que lhe circunscreve. Para concluir: Vargas Llosa é um demente, já está liberado cuspir em seu túmulo, e falar isso é uma obrigação em um mundo que tem Merval Pereira como presidente da Academia Brasileira de Letras. Daí se conclui que a literatura também é um mecanismo de resistência, mas não quando esmaltada com o muco verdolengo da imparcialidade. Mas quem sou eu para julgar? Pelo menos dessa vez escrevi um texto mais curto. Durmam com Deus.







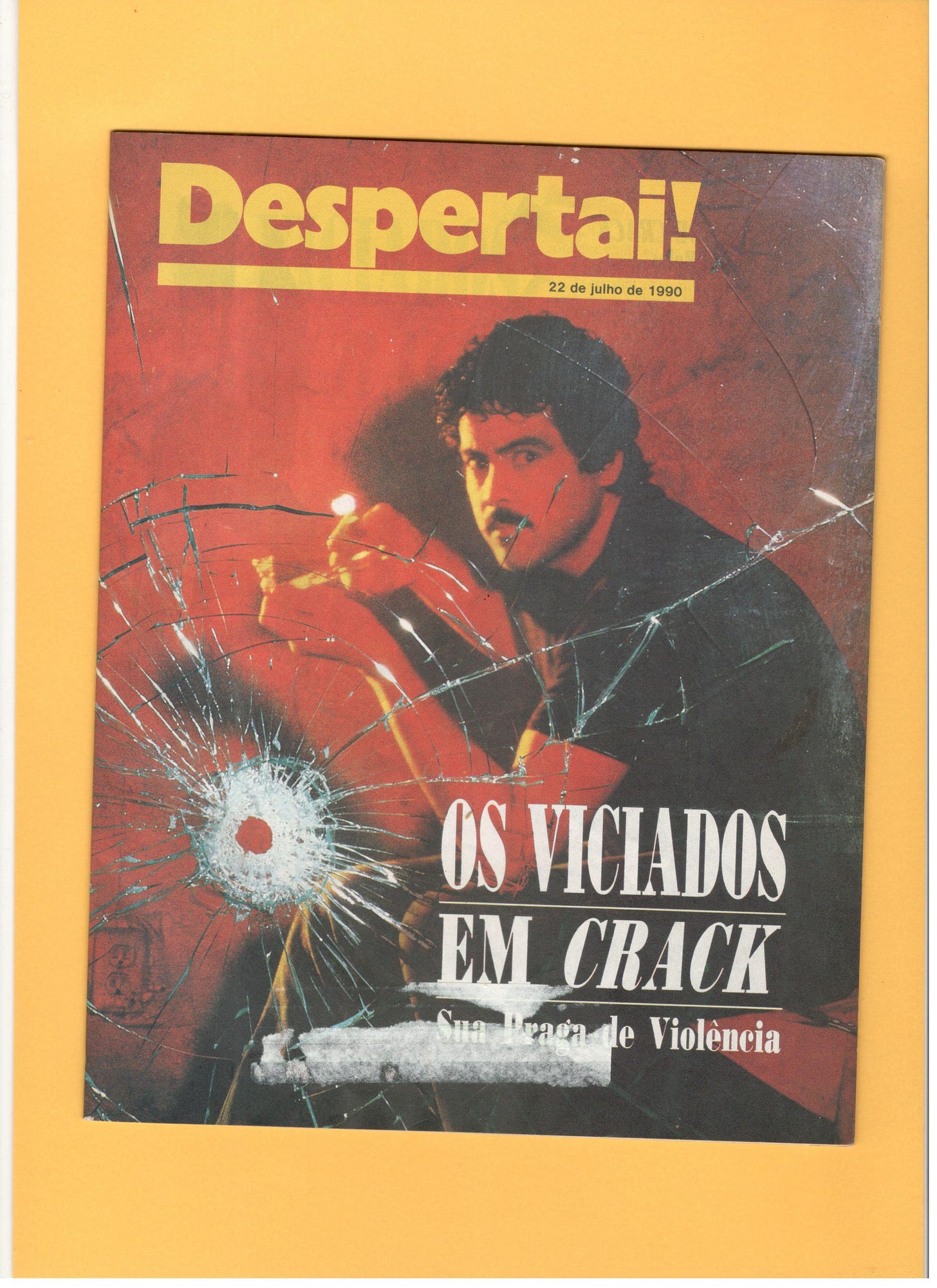
Isso é muito melhor que a filosofia!
Me desculpe, mas fui cuspir e acabei ejaculando em minhas calças… seus textos estão sublimes.